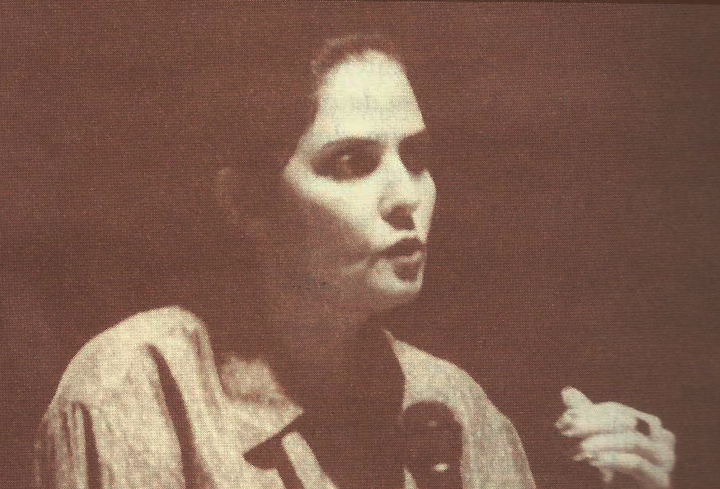![]()
Esta entrevista fez parte do Seminário Permanente de Teatro para Infância e Juventude, realizada no Teatro Ziembinski, em 24 de Junho de 1997.
![]()
Dudu Sandroni
Este é um momento de emoção. Se eu devo a alguém o fato de hoje em dia ser diretor de teatro, esse alguém é a Sura, que me pegou num momento meio perdido, quando eu não sabia para onde ir. De repente, a gente se encontrou, em 1987, na montagem do espetáculo Um peixe fora d’água do qual fui assistente de direção. Eu nunca tinha feito assistência de direção na vida. Ainda não tinha tido coragem de assumir que queria ser diretor de teatro. Na verdade, essa experiência me deu essa coragem, foi maravilhoso…
Sura Berditchevsky
É, você teve que trabalhar um bocado também…
Dudu
E aprender muito, Sura, o que foi fundamental. Sem querer criticar meus colegas, e um pouco criticando, as pessoas acham que sabem muito de teatro. Saem de uma escola e querem logo dirigir alguma coisa. Poucas pessoas se dispõem a aprender teatro, cumprir etapas da vida teatral, conhecer um palco, um urdimento, saber como se bota um refletor, coisas fundamentais. Cada vez mais acho que temos gente despreparada para o ofício. O teatro é uma profissão que tem muito de artesanal, você tem que saber construir. Mas o nosso papo aqui é sobre a carreira do convidado. É uma possibilidade de diretores, atores, produtores e técnicos que estão aqui repensarem seu trabalho.
Sura
Vou fazer uma retrospectiva rápida. Bom, comecei a fazer teatro na escola, no 3º ano do curso ginasial do Colégio Franco-Brasileiro, uma escola super tradicional e numa época de eferves cena política – rolava pancadaria no Largo do Machado, um movimento estudantil super forte nos colégios São Vicente de Paulo e Aplicação…
Dudu
Em que ano foi isso, Sura?
Sura
Em 1967, 68, porque em 70, com 17 anos, fui para o Tablado. Eu já tinha tido uma experiência rápida, em teatro, com um tio meu que era diretor e cenógrafo, uma pessoa muito especial que teve uma influência grande na minha educação e na dos meus irmãos. Sempre fui muito rebelde, muito revoltada e consegui ativar o grêmio do Franco-Brasileiro – nas outras escolas já havia um movimento secundarista bastante ativo. Bem, botei o grêmio para funcionar, fiquei com a função de tocar o teatro e o Marco Altberg, que hoje é cineasta, ficou responsável pelo cineclube da escola. Depois, levamos para nos dar aula no colégio um diretor de teatro. Montamos duas peças de Brecht e uma de Pirandello. Aí, viajei para Israel e Europa – aquelas coisas todas antes de fazer vestibular – e, quando voltei, apesar de a família viver na expectativa de que eu me casasse de uma forma bem certinha, como minhas primas, não tive dúvida: eu queria mesmo era fazer teatro. Em 70, fui para o Tablado. Ao mesmo tempo, fazia vestibular pra jornalismo – não terminei, acabei abandonando o curso quase no último ano. Mas, naquela época, eu fazia um estágio na TV Educativa e era uma loucura, porque quem dirigia a TV naquele momento eram pessoas retrógradas, bem de direita, umas velhinhas ex-professoras que tinham um poder total. Era um momento muito violento. No meio disso tudo, eu vivia a perspectiva de liberdade que o teatro estava me dando. Naquele momento, o Tablado foi superimportante porque tudo aquilo que eu buscava na vida universitária ou no estágio da TVE – liberdade de criação – acabei encontrando no Tablado. Éramos eu, Louise Cardoso, Bernardo Jablonski, Wolf Maia, Silvinha Nunes, Carlos Wilson e Milton Dobbin. Maria Clara Machado se dividia para dar aula para duas turmas. No segundo ano de Tablado, a Clara me convidou pra fazer Tribobó city, comemoração de 20 anos do Tablado. A partir daí, comecei a integrar todas as peças dos repertórios adulto e infantil. Três ou quatro anos depois, comecei a trabalhar e a dar aulas de teatro em algumas escolas importantes do Rio e foi uma experiência muito rica. Eu e Louise trabalhávamos direto dando aulas fora do Tablado. Então, a Clara abriu o corpo de professores e resolveu chamar primeiro o Bernardo Jablonski para dar aulas. Depois, me chamou…
Dudu
Antes, só ela dava aula?
Sura
Só, só a Maria Clara. Quando a Clara nos chamou para dar aulas, nós demos continuidade ao estilo de trabalho dela. Com o tempo, é claro, fomos, cada um a seu modo, criando um estilo próprio, desenhando um perfil, uma trajetória de trabalho individual. Eu e Louise desenvolvemos um trabalho bem dinâmico. Eu já tinha trabalhado muito com o Zdenek Hampl – a gente convidava profissionais de fora para fazer coisas no Tablado. O Zdenek, por exemplo – não sei se vocês conhecem -, é um coreógrafo tcheco, veio pro Brasil com o espetáculo A lanterna mágica, adorou e acabou ficando por aqui. Foi uma pessoa que teve uma atuação muito importante num determinado momento, na década de 70 fez Calabar, proibido pela censura, e foi quem trouxe o sapateado para o Rio de Janeiro. Paralelamente à minha vivência como aluna e atriz no Tablado, desenvolvia um trabalho ligado à educação. Alguns anos depois, fui chamada para fazer televisão e resisti bastante – hoje em dia é exatamente o contrário, o aluno já se matricula no curso querendo saber se tem diploma, registro, se vai dar para ele ir para a TV. Lembro que eu e Louise resistimos alguns anos, porque achávamos que nós não queríamos aqui lo naquele momento. A gente não tinha a menor pressa. Partir para o cinema e tive a sorte de trabalhar com alguns cineastas superimportantes, que tinham vindo do Cinema Novo – Oswaldo Caldeira, Geraldo Sarno, excelentes documentaristas. Fiz muitos curtas e filmes bastante interessantes: Ajuricaba, A história do coronel Delmiro Gouveia e, um dos últimos, Os sete gatinhos, do Neville de Almeida.
Dudu
Como você chegou à televisão?
Sura
Fui chamada pelo Ziembinski. Incrível, sempre penso nisso. Ele assistiu a um trabalho que fiz no Tablado e depois me chamou para participar de um especial – não me lembro o nome -, que tinha no elenco a Tereza Rachel. Foi assim a minha estreia e a do Diogo Vilela. Superemocionante poder trabalhar com a Tereza Rachel e ser dirigida pelo Ziembinski. Era um texto difícil e foi uma forma muito bacana de entrar na TV. Depois desse primeiro trabalho, fui chamada pelo Daniel Filho para fazer a novela Dancin’ days. E aí, foi uma coisa atrás da outra. Fiz uma série de novelas e seriados durante quase uma década na Rede Globo.
Dudu
E como você reagiu ao trabalho e ao sucesso na TV?
Sura
Entrei em parafuso, porque tudo aquilo que eu estava construindo, toda a expectativa do trabalho em equipe, coisa de que sempre gostei, ficava meio de lado. Foi muito violenta também a pressão dos colegas que faziam teatro, e que hoje estão todos aí, brilhando na televisão. Na época, todos tinham um preconceito muito grande em relação à TV. Era pressão de todos os lados e eu me sentia completamente sozinha. Mas o mais violento era estar fazendo um trabalho de tanta repercussão popular. Hoje, acho que as pessoas gostam disso. A garotada adolescente ou quem quer ser ator conta com isso, com a mídia. Hoje, a mídia passou a ter uma importância muito maior do que o próprio trabalho; quer dizer, a repercussão que a imagem tem vale mais do que a essência. Foi muito violento ter que lidar com essa mídia. Era capa de Amiga, Sétimo Céu, Contigo, ligavam para saber o que eu comia ou não comia, me pegavam na rua, no botequim comendo um pastel, um ovo colorido, tudo era motivo para uma reportagem. Ao mesmo tempo, eu estava atuando em uma novela de muito sucesso… Veja bem, eu estou falando de Dancin’ days – não foi qualquer novela -, considerada um marco na história da telenovela no Brasil, assim como Beto Rockfeller tinha sido no seu tempo. Beto Rockfeller, a maioria de vocês não assistiu, mudou a história da televisão no Brasil e Dancin’ days, numa outra medida, representou uma ruptura, uma transformação muito grande na linguagem televisiva. Então, lidar com a imagem era muito forte. Outra coisa era ter que lidar com uma representação tão naturalista, tipo “fala rápido, joga pra fora”. Era muito difícil. Me lembro que o Daniel Filho falava assim: “Joga fora, texto é pra jogar fora!” Mas eu tinha aprendido de outro jeito e queria falar o texto com embocadura, como os atores mais velhos falavam. Foi uma coisa louca. Fazia análise quatro vezes por semana. Havia coisas bacanas também, claro, eu é que não sabia lidar muito bem com tudo aquilo. Era novinha, fotografava bem e, no vídeo, ficava muito diferente do que sou pessoalmente. Era uma menina e aparecia assim como um mulherão. E eu não estava preparada pra ser um mulherão, pra ser essa imagem que a TV passava de mim.
Dudu
E a volta ao teatro, como foi?
Sura
Em 1980, comecei a questionar tudo na minha vida. Entrei num processo de questionar tudo, tipo quem sou eu, o que estou fazendo aqui, o que eu quero, em que é que eu acredito e, ao mesmo tempo, estava querendo ser mãe. Eu já tinha sido casada, tinha me separado, já tinha vivido umas paixões avassaladoras e me perguntava: o que será da minha vida? Foi uma crise geral. Comecei a escrever, passei a questionar o Tablado e a me confrontar demais, a discordar de uma série de coisas, de uma série de contradições que estavam ali, na cara. E passei a cobrar essas coisas da Maria Clara Machado, do Damião. Ah esqueci de dizer que, durante o tempo em que fiz televisão, eu tinha um grupo independente de teatro e, juntos, montamos peças muito interessantes, que tiveram uma grande repercussão, entre elas, Dependências de empregada. Eu gravava pra caramba e fazia teatro infantil aos sábados e domingos, duas sessões. Teve uma época em que eu fazia espetáculos com um grupo de palhaços – eu, Zé Lavigne, Cacá Mourthé e Milton Dobbin – em todas as praças do Rio. Tínhamos uma subvenção da Secretaria de Parques e Jardins e, durante quase três anos, vivi praticamente desse trabalho. Fiz um filme do Nelson Rodrigues e também a última peça que ele escreveu, A serpente. Foi uma experiência fantástica, porque o Nelson ficava na coxia do teatro – nós inauguramos o teatro do BNH, hoje teatro Nelson Rodrigues – e a gente brincava de táxi, eu fazendo lotação com as cadeiras para passar o tempo… Foi uma experiência muito rica. Depois, dirigi a Cláudia Jimenez em Valsa nº 6, um monólogo, uma solidão terrível. Eu e ela ficamos sete meses trabalhando com o acompanhamento de um psicólogo junguia no. Foi um trabalho rico, mas levei um pau violento da crítica. Se a montagem tivesse acontecido há cinco anos, teria sido um baita sucesso. Mas aquele era o ano do Circo Voador, o Rio era uma festa só e nós fazíamos um monólogo de Nelson Rodrigues à meia-noite, no Ibam. Quer dizer, ninguém foi assistir, ninguém ia.
Dudu
E a produtora, como surgiu?
Sura
Recebemos um convite e levamos Valsa nº 6 para o Sul. Depois, tirei férias, fui pra Porto Seguro, na Bahia, e voltei meio hiponga. No caminho, resolvi parar em Vitória. Não tinha um tostão. Desci em Vitória e fui vender o espetáculo. Não tinha roupa apropriada, mas me hospedei num hotel cinco estrelas. Era conhecida, estava fazendo TV e queria vender a Valsa nº 6 em Vitória. Mas, naquele ano, a Pepita Rodrigues, com aquele caminhão e aquelas peças bem digestivas, tinha chegado antes e levado o dinheiro da cidade inteira. Eu estava numa contramão danada. Insisti e consegui divulgação na afiliada da Rede Globo e foi maravilhoso, porque lotamos o teatro – acho que o nome do teatro era Carlos Gomes. Depois, fomos chamadas para levar a peça para Curitiba. Lá, o governador Ney Braga nos deu uma ajuda financeira para viajarmos com o espetáculo pelo Sul todo. Nossa equipe era um motorista, uma produtora, eu e Claudinha. Fomos para uma dezena de cidades. Acho que virei produtora nessa época.
Dudu
E a Sura escritora?
Sura
Bom, a partir dessa experiência, comecei a escrever, casei, tive minha filha e entrei numa experiência bem interior, voltada para dentro. Comecei a perceber que eu estava escrevendo para crianças – mas não era teatro, era conto. E eu pensava: afinal, o que é isso? É pra criança? Fiquei com os textos engavetados uns cinco anos, porque não conseguia admitir que eu estivesse fazendo alguma coisa assim. Maria Clara Machado escreve pra criança, não é? Eu pensava: jamais vou conseguir fazer isso. Então, escrever foi um parto doloroso e, ao mesmo tempo, uma necessidade quase vital. Só comecei a editar os livros depois que a Natasha nasceu. Com a descoberta da literatura infantil, retomei o fio da meada de algumas coisas que tinham ficado no passado. Ia muito a escolas, conversava com professores, trabalhei muito viajando pelo país, lançamentos, bienais. Só tenho três livros infantis publicados, mas chamo de “obra completa”. Foi um boom, uma coisa impressionante. A sua mãe, Dudu, teve uma importância enorme nessa fase. A Laura Sandroni escreveu coisas lindas sobre o meu trabalho, me estimulou muito. Esse período durou mais ou menos cinco anos, sem parar. Mas era uma solidão enorme, você com o seu livro falando pra uma multidão em salas de debates e conferências. Era um universo diferente, estranho. Foi aí que retomei minha história com o teatro e fui encenar um dos meus livros, Um peixe fora d’água, ideia que partiu do Luís Antônio Rocha, que produziu o espetáculo…
Dudu
A ideia partiu do Luís Antônio? Como é que foi a proposta?
Sura
O Luís Antônio era um fã dos meus livros, vivia pelas livrarias. Um dia, disse que queria fazer um trabalho comigo. A ideia foi me seduzindo, seduzindo e resolvemos juntar aquela turma – algumas pessoas tinham sido do Tablado – e tomei coragem pra dirigir. Você, Dudu, falou há pouco sobre a importância desse espetáculo pra você como diretor e eu, sem puxação de saco nenhuma, absolutamente, digo como foi importante ter tido você nesse trabalho. Primeiro, porque comecei a entender que a minha expressão plena enquanto diretora ou autora se dá através de espetáculos grandes. Tenho necessidade de trabalhar com muita gente, de trabalhar tudo o que tem no teatro. Sua participação nisso foi fundamental. A partir daquele espetáculo, comecei a desenhar, a entender e a desenvolver um estilo de criação. Um peixe fora d’água foi um sucesso. Conseguimos levar um público muito grande para o Teatro Villa-Lobos. Depois, fomos para o João Caetano, para São Paulo. Vale dizer que aquela foi uma das primeiras peças que contou com patrocínio de mídia da Coca-Cola. Foi um dos primeiros espetáculos nos quais a Coca- Cola acreditou e nós fomos responsáveis por isso. Depois, fui chamada pra ser jurada do Prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil e me sinto – posso dizer isso, realmente, sem modéstia nenhuma – como uma das pessoas que ajudou a implantar esse prêmio. Fiquei dois anos como jurada. Depois, saí para fazer o Peter Pan e voltei por mais dois anos.
Dudu
Fala um pouco sobre o Peter Pan…
Sura
O espetáculo me fez confirmar essa tendência que despontou com Um peixe fora d’água, a de fazer espetáculos grandes, com uma equipe técnica de primeiríssima – Edu Lobo, Zdenek Hampl na coreografia, Jorginho de Carvalho, Lídia Kosovski, um investimento grande. O elenco era formado por ex-alunos do meu curso de teatro – 58 atores – e foi um boom, com cambista na porta. Acho que foi uma felicidade, rolou uma afinidade incrível entre as pessoas. Ficamos dois anos em cartaz sem uma briga. A minha tristeza foi ter que interromper a temporada por nada. Existe um estatuto que diz que cada produção que entra em cartaz nos teatros da rede pública tem que conceber sua cenografia e sua produção de forma que, meia hora após o espetáculo, o palco esteja livre para a produção seguinte. Toda a concepção dos meus espetáculos sempre foi feita respeitando essa regra, mas nós não fomos respeitados. Saímos do Teatro Villa- Lobos com casa lotada e eu fiquei muito triste porque não tinha outro teatro pra ir. Tinha certeza de que, se nós continuássemos, o dinheiro do Peter Pan teria sido suficiente para produzir o próximo espetáculo – a história do Pinóquio, com uma cara bem brasileira. Conseguir o dinheiro com a bilheteria era um posicionamento contra a política cultural de passar chapéu, de depender de patrocínio. Eu já acreditava na idéia da companhia e interromper a temporada assim foi uma tristeza.
Dudu
Você pulou o Vale a pena…
Sura
Pulei, pulei.
Dudu
Fala um pouquinho do espetáculo, era tão bonito…
Sura
Você achava bonito?
Dudu
Eu achava lindo.
Sura
Eu achava aquilo um equívoco.
Dudu
É mesmo? Acho que seus espetáculos têm poesia, têm o lúdico – é um peixe que sai do aquário e, de repente, está no mar, na rede -, têm uma coisa grandiosa, espetacular. O Vale a pena , ao contrário de Um peixe… e de Peter Pan, não tinha essa coisa espetacular, grandes efeitos cênicos ou muita gente em cena. Ele era a síntese desse lado mais poético do seu trabalho, e eu gostava muito disso. Foi um espetáculo maltratado, na época, pouca gente viu…
Sura
Ele teve uma carreira interessante. No teatro, não foi muito bem, mas eu trabalhei muito e ficamos um ano e meio levando a peça a escolas, com debates. Mas é bom escutar isso, porque o Vale a pena, pra mim, é um trauma.
Dudu
O que te desgostava no Vale a pena?
Sura
Como autora, eu achava que não tinha resolvido bem a peça. Tinha uma boa intenção e uma boa ideia, mas tinha um miolo que não estava bem resolvido. Não era aquilo que eu queria ter feito. Depois, quando comecei a levar a peça para as escolas, com a reação das crianças e as conversas com as professoras, percebi que o espetáculo tinha uma função. Mas tinha um problema de estrutura de texto. Acho que eu deveria ter trabalhado melhor esse lado poético, do qual você falou. Mas aquela experiência serviu para confirmar uma tendência que ficou bem clara depois, com o Peter Pan, que é esse meu prazer de trabalhar com muita gente.
Dudu
Por que você não trabalha com atores do mercado?
Sura
Gosto de pegar gente jovem, inexperiente, de trabalhar com um grupo grande. Prefiro isso a trabalhar com profissionais que já estão no mercado. Trabalho meus textos como se eu estivesse trabalhando um Shakespeare e, justamente por não ser Shakespeare, tenho um rigor muito maior na direção. Dirijo os meninos como se estivesse dirigindo um ator profissional. Gosto de trabalhar o indivíduo me atrai, eu acredito no ser humano.
Dudu
Por que você abandonou a ideia de fazer Pinóquio e partiu para o Diário de um adolescente hipocondríaco?
Sura
Levei uma puxada de tapete, tiraram a pauta do teatro. Colocaram o Diário de um adolescente hipocondríaco às cinco horas da tarde e a peça não era pra criança, era uma peça pra quem está entrando na adolescência. Foi um trabalho bonito, que contou com uma parceria do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o DST-Aids, do Ministério da Saúde. Mesmo assim, nos colocaram as cinco da tarde e eu dizia: criança de três anos não vai curtir, a mãe não vai gostar, não tem Peter Pan voando por cima da plateia… Então, me diziam que eu não precisava de divulgação, de mídia – “Você é a sua mídia, quem não conhece Sura Berditchevsky?” Pois é, muita gente não conhece, é um nome enorme, complicado, difícil de falar, ninguém associa o nome àquela atriz que fez tal novela. Comecei a ter dificuldade, não me davam pauta em teatro. Então, como a gente ganhou vários prêmios, comecei a fazer uma pesquisa enorme, uma viagem de trem visitando os mais importantes museus de brinquedos da Europa. Foi interessantíssimo e a pesquisa ia servir para montar Pinóquio . Quando eu voltei, mais uma vez não tinha pauta em teatro nenhum.
Dudu
Não teve uma história com o Teatro do Leblon?
Sura
Eu instalei uma escola de teatro na Barra e fiquei três anos e meio investindo naquela turma, porque havia um compromisso firmado de a gente inaugurar o Teatro do Leblon. Marília Pêra ficaria com o horário adulto e eu com o infantil. Fiquei esperando a obra, acompanhando. O teatro ficou pronto e a Marília inaugurou com um cenário fixo, que rodava, e não tinha espaço pra mais nada além do cenário dela. Foi uma decepção total não só pra mim, mas pra toda a equipe – 58 pessoas esperando para fazer Pinóquio. Foi dramático porque eu desarticulei uma companhia de pessoas preciosas por duas vezes. Muitos se dispersaram. Agora, nós temos uma outra geração e, se Deus quiser, se tivermos força, realmente, vamos virar uma companhia. Isso tudo já tem uma década –
Um peixe fora d’água é de 87.
Da plateia, Ludoval Campos
Sura, o que é teatro descompromissado pra você?
Sura
Quando penso num espetáculo, nunca busco o mercado, aquilo que é propício ou interessante naquele momento, compreende? No momento do Diário de um adolescente hipocondríaco, o importante era falar da AIDS e da sexualidade na adolescência, mas fui motivada pela minha vivência, as coisas vêm mesmo de dentro. Tive experiências dolorosas de perda de amigos muito próximos – Carlos Wilson, Carlos Augusto Strazzer, Milton Dobbin. Aprendi muito, vi muita coisa desagradável, desde atendimento de hospital até problemas de relação familiar. E aí comecei a me preocupar com essa adolescência, me perguntando: como o pré-adolescente vai entrar na vida sexual? Era essa a minha questão. Em todos os trabalhos, nunca tive uma preocupação com o mercado e espero continuar assim. Não há a menor necessidade de apelo, não há receita de bolo. Acho que a gente tem que ter uma motivação maior, que não vem de fora pra dentro. A função do artista é essa. Acho que tenho ido na contra mão. Tenho um certo prazer nisso é meu lado meio revolucionariozinho, meio rebelde, que eu acho bacana. É um trabalho de resistência mesmo, ao contrário dessa coisa massificadora.
Dudu
No teu caso, é uma contra mão engraçada, pois desde Um peixe fora d’água tem sido uma contramão no caminho da superprodução da mais alta qualidade, numa época em que ninguém estava fazendo isso – botar 40 pessoas em cena, usar três cenários diferentes e não sei quantos figurinos. Era uma loucura. E sem patrocínio, tudo feito de uma maneira artesanal. Nunca vou me esquecer que a gente passou a Páscoa envelopando material pra todas as escolas do Rio de Janeiro. Cada escola recebia um envelope com uma crítica, um release do espetáculo, uma foto, coisa e tal. Eram dias e dias fazendo aquilo e depois tinha que entregar. Era um trabalho de formiguinha, artesanal, a serviço de uma produção que tornou-se um marco. Não foi à toa que a Coca-Cola começou a entrar com patrocínio a partir disso. A contramão da Sura era uma coisa feita de maneira espetacular e grandiosa, a partir de métodos de produção artesanais e precários.
Sura
Lotamos o João Caetano com aquela mala direta. Aliás, a mala direta era sensacional, por que era literalmente uma mala direta, porque nós contratamos um boy e ele ia para a rua com uma mala enorme, lembra disso?
Dudu
E com um caderninho pra diretora da escola assinar que recebeu.
Sura
Morro de vergonha só de lembrar. A gente com um mapa enorme, dava as coordenadas e lá ia o cara por bairros e bairros. Chegava exausto. Era o tempo do onça…
Dudu
Tem um momento em que a contramão é você estar à parte em relação ao mercado. Tem outro momento em que a contramão pode ser você descobrir o merca do e acreditar nele, acreditar que pode dar certo, que o público po de prestigiar desde que você tenha meios, estratégias pra chegar até ele. Acho que a contramão de Um peixe fora d’água, Peter Pan e, imagino, do Diário… é a contra mão de quem acredita no seu trabalho e de quem batalha para chegar ao público.
Sura
É… uma louca, uma doidiva nas. As pessoas pensam que abri mão do meu trabalho de atriz, mas não é isso. Ele só passou a ficar num segundo plano, por essas questões todas. Não me arrependo, absolutamente, mas sinto uma necessidade enorme de atuar. Gosto de diversificar, descobrir, fazer coisas diferentes. Quero ter essa liberdade. Escolhi essa profissão para ser livre, ter opções e muita liberdade de criação. É isso o que ensino aos alunos. O preço é muito alto porque as pessoas pensam que eu não quero mais atuar. Quando come mesmo, e fica gorda durante décadas e com o filho recém-nascido.
Dudu
E a coisa do espaço próprio, como surgiu?
Sura
Tive intervalos grandes entre uma peça e outra – é triste isso. Se você pensar, o Peter Pan foi de 90 a 92 e só fui fazer o outro espetáculo, o Diário…, em 96. Por conta desse intervalo, desarticulei uma companhia inteira. Foi terrível isso. Naquele momento, resolvi que eu tinha que ter um espaço meu e a primeira ideia era que fosse alguma coisa itinerante, para que eu pudesse viajar com os espetáculos, com liberdade, sem depender de pauta em teatro. Aí, comecei a procurar tecnologias fora do país, na Alemanha e em Barcelona, onde estive com uns arquitetos superinteressantes, especialistas no tipo de material que decidimos usar. Trabalho nesse projeto há cinco anos – três anos e meio totalmente voltada só pra isso.
Dudu
Fala do espaço…
Sura
A princípio, era um teatro que pudesse viajar, um espaço que pudesse ser transportado, mas tinha que ser uma coisa confortável e que não fosse circo – gosto de circo, mas não é a minha linguagem. Gosto imensamente de palco italiano. A ideia foi evoluindo. O que deveria ser apenas um teatro, virou um complexo cultural, uma espécie de parque, um parque-teatro. No meio do caminho, conseguimos a concessão, por dez anos renováveis, de um terreno na Barra da Tijuca. Deixa eu mostrar o projeto pra vocês, que é do Felippe Crescentti… Teremos o Grande Teatro, o Museu do Brinquedo – a ideia é trabalhar com a memória, com o passado e com o futuro -, uma sala de exibição de cinema, um núcleo de formação de artes cênicas, que também vai abranger música e dança, e uma área de lazer com lojas, fast-food, restaurantes. Também está prevista uma área de integração para as várias oficinas de criação. A ideia é que o teatro possa comportar operetas, espetáculos de dança e, para isso, teremos fosso de orquestra, urdimentos, coxias e camarins amplos. A dimensão do teatro estaria entre a do Villa-Lobos e a do João Caetano.
Dudu
Vai ser em que lugar da Barra?
Sura
Em frente ao Carrefour e tu do com muito conforto. Toda a estrutura é metálica, com infláveis. Depois do projeto pronto, fui às pessoas, comecei a captar dinheiro, usar as leis de incentivo. A ideia é construir um parque-teatro no Rio e, depois que a filosofia do trabalho estiver bem estruturada, bem implantada, construir outros em outras cidades. De repente, até usar o sistema de franchising. Além das “filiais” em outras cidades, também quero um módulo que possa percorrer o país, resgatando, com isso, o espírito do teatro mambembe, das grandes companhias, mas com tecnologia de ponta.
Da plateia, Aderbal Freire-Filho
O projeto é bonito, legal mesmo. Já sou fã dele. Mas acho que é preciso ter um pensamento realista e integrado ao mundo atual, especialmente nas condições brasileiras, que tornam tudo mais difícil. Como fica o ator nessa estrutura? Como o ator pode ser salvo? Outra coisa sensacional é você pensar em fazer um franchising de teatro. E ótimo, tem de pastel, tem de cosmético, tem de roupa…
Sura
É verdade, só não tem de teatro…
Da plateia, Aderbal
É fantástico ter um franchising de teatro. Mas quero chamar a atenção pra essa questão do ator como o profissional de teatro que precisa ser salvo. Esse ator já não é mais uma espécie em extinção, ele já é uma espécie extinta. Quem sabe a gente ainda pega um sobrevivente, clona e começa a criar uma nova geração de atores profissionais. Dentro de um projeto profissional, pergunto se você pensa em como salvar a espécie. Porque as pessoas que trabalham em torno da atividade teatral, os donos das associações de espectadores, os pipoqueiros, todos ganham mais do que o ator…
Sura
Isso é uma coisa absurda.
Da plateia, Aderbal
O flanelinha que olha seu carro ganha mais do que o ator. Qualquer um ganha mais do que o ator. Quero contar um casinho curtíssimo. Uma vez, fiz uma peça e chamei um mendigo pra participar. Era um mendigo que tocava um instrumento na rua. Passei, ouvi, achei maravilhoso (era o som que eu estava procurando para a peça). Aí, cheguei para o mendigo e falei: “você não quer fazer o som da minha peça?” Ele foi, fez o som e ficou a temporada inteira, empolgadíssimo. De dia, aqui no Rio ou durante as viagens, ele pegava o instrumentozinho dele e ia para a rua, mendigar. De noite, voltava para o teatro, fazia as contas e distribuía parte da grana entre os atores. O Casquinha – esse era o nome dele – chegava, desamassava as notas – tinha que desamassar muito – e distribuía: “Isso é pro senhor, seu Mayer” – José Mayer era um dos atores. Então, todo mundo, até mendigo, ganha mais do que o ator.
Sura
Minha prioridade – a minha e a do meu trabalho – é o ator. Então, pra que a gente consiga viver e sobreviver disso, a solução é acumular funções. A gente acumula tudo, dá aulas, faz produção executiva, faz de tudo um pouco. Acho que é da maior importância que o elenco, mesmo dentro dessa estrutura cooperativada, consiga ganhar o seu cachê, um dinheiro que dê pra comprar o seu CD, seu vestido, ir à festa. Sou completamente a favor de a gente fazer varejão do nosso trabalho. Não dá pra gente viver disso, mas, dentro do projeto, com a estrutura de companhia, com certeza vão surgir interesses diferentes. O Léo, por exemplo, que é ator, está interessado em cenografia – não sabe se faz arquitetura. Acho bárbaro quando surge uma coisa assim, porque a maioria dos jovens procura o teatro pensando em entrar na Globo. Então, essa postura do Léo já representa uma mudança de mentalidade. Acho que no espaço de uma companhia é possível somar e inventar frentes de trabalho. Não sei se te respondi. Até agora, não tivemos patrocínio. As parcerias foram muito tímidas, pequenas, diante do projeto, mas deu pra realizar, pagar, aprender muito e receber um dinheiro pelo trabalho.
Da plateia, Faísca
Adorei seu projeto. Estou fascinado. Tenho 25 anos, faço parte de uma geração que acha que tudo é muito mole. Acha que qualquer empresário que conhecer o projeto vai dizer: “é pra já, de quanto você precisa?” Mas sei que não é bem assim que funciona. Como é, Sura, chegar pra um executivo, um cara de terno e gravata – você, faladeira pra caramba – e vender seu peixe? Tenho muita vontade de fazer isso, botar um projeto debaixo do braço e dizer: “amigão, vamos lá, almoço de negócios, vamos falar de teatro”. Como é fazer isso, acreditar nisso?
Sura
Olha, Faísca, é fogo. (risos.) É um trabalho conjunto, planejado, de vários profissionais. Circunstancialmente, estou virando empresária e, por necessidade, estou aprendendo, descobrindo. Mas nunca foi assim, na minha trajetória. Apesar de falar muito, nunca tive um comportamento adequado pra lidar com empresário. Se eu tivesse, talvez conseguisse mais vantagens. Às vezes a gente ganha, às vezes perde. Fico à vontade para ir a um empresário apresentar o projeto porque estou produzindo. É difícil, mas a gente insiste, tenta sempre e vai vivendo.
Da plateia, Célia Bispo
Sura, você falou da garotada, dos cursos. Como temos uma experiência bastante parecida – um curso que realimenta a companhia -, pergunto: eles continuam fazendo o curso com você? Você está caminhando pra formar uma companhia? O núcleo, a essência, ficou.
Sura
A já existe, a gente é que não consegue pauta em teatro. Digo companhia com muito medo de desarticular tudo, como já aconteceu. Essa é nossa terceira tentativa. Alguns se dispersaram, mas muitos ficaram. O núcleo, a essência, ficou.
Da plateia, Célia
Eles continuam a fazer aulas com você? Continuam a pagar pelo curso?
Sura
A grande maioria, sim, mas eles já estão em outro estágio, integrados ao trabalho da companhia. Meu desejo era poder trazer gente de fora pra dar aula, lecionar, coordenar oficinas. Tenho vontade de criar um complexo maior de aprendizado, como escola de figurino, escola de música, por exemplo. Quero voltar a trabalhar como atriz, acabar com esse estigma de que mudei de profissão. Vejo a ansiedade e o desejo desses jovens. Eles gostariam de fazer mais, estão nessa fase romântica, de encantamento com o nosso ofício e, às vezes, são obrigados a desacelerar em função das prioridades de trabalho, do tempo real. Com o projeto, pretendemos fazer fluir toda essa criatividade, abrir espaço para todas as tendências…